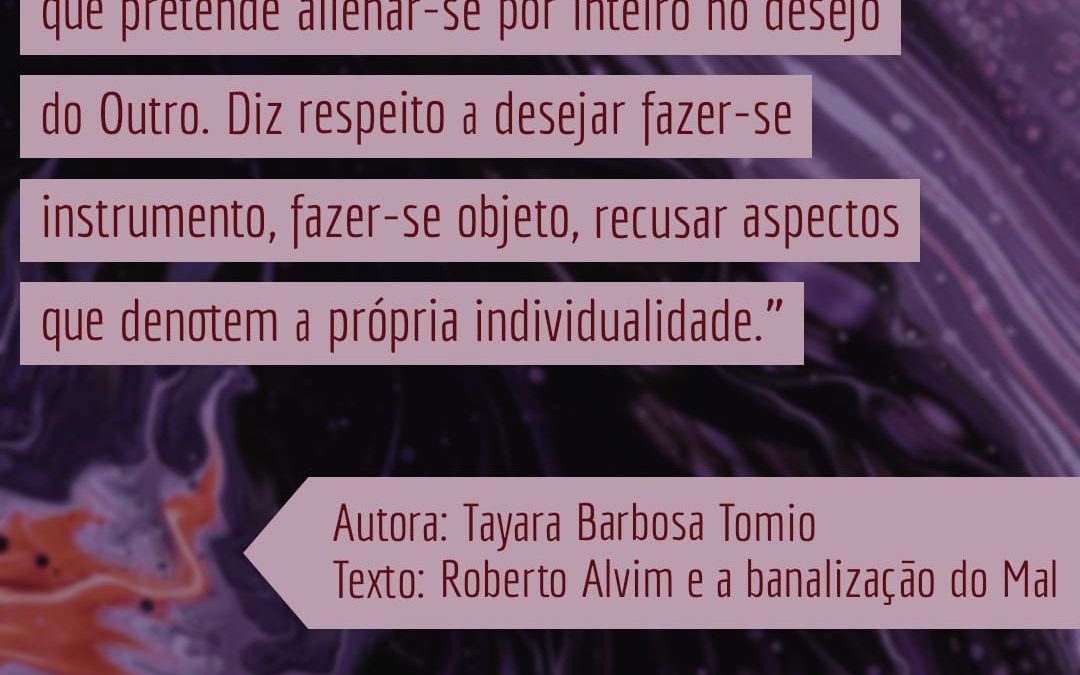Roberto Alvim e a banalização do mal
Filme “o poço” – A profundeza que propõe um pensamento
22 de maio de 2020
Slavoj Žižek, Lacan E Dostoiévski em concerto para piano
29 de maio de 2020Roberto Alvim e a banalização do Mal
.
por Tayara Barbosa Tomio
.
No dia 8 de maio de 1933, Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do governo de Adolf Hitler, tinha uma reunião marcada com diretores de teatro da Alemanha no hotel Kaiserhof, um dos mais importantes de Berlim. Na reunião, Goebbels discutia os planos para a cultura alemã da época e criticava a degradação da arte causada pelos movimentos vanguardistas do começo do século XX. Segundo o ministro, estes movimentos deixavam de lado os elementos estéticos das artes clássicas em benefício de experimentação e expressão. Em determinado momento, ele faz um discurso para os diretores presentes, onde fala sobre o nascimento de uma arte alemã:
“A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada.”
Dois dias depois, por ordem de Goebbels, ocorre uma queima de livros massiva na praça Bebelplatz, em Berlim. Centenas de volumes foram incendiados, incluindo obras de autores como Karl Marx, Albert Einstein e Thomas Mann, que se tornaram proibidos dentro do território nazista.
Oitenta e sete anos se passaram e no dia 16 de janeiro de 2020, Roberto Alvim, até então Secretário Especial da Cultura do Governo de Jair Bolsonaro (substituído pela atriz Regina Duarte, após ser exonerado), faz um pronunciamento por meio de vídeo veiculado na conta oficial do órgão, no qual ele anunciava o edital de um prêmio na área e falava sobre os planos da secretaria para os próximos anos:
“A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional: será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo – ou então não será nada.”
Como se não bastasse as similaridades entre os textos, a estética da cena é a seguinte: o secretário em uma mesa, a foto presidencial ao alto, a bandeira nacional a direita e um crucifixo a esquerda. Tudo isso ao som da ópera Lohengrin de Richard Wagner. A música que retrata a disputa entre cristianismo e paganismo foi usada na inauguração do terceiro Reich, e em seu livro “Mein kampf”, Hitler cita Wagner como seu compositor favorito.
O pronunciamento provocou revolta nas redes sociais. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Supremo, Dias Toffoli, além da Confederação Israelita do Brasil, também se manifestaram contra o discurso. No início da tarde do dia 17, o Governo demitiu o secretário, alegando que o pronunciamento “tornou insustentável” sua permanência.
Roberto Alvim, por sua vez, afirmou nas redes sociais que se tratou de uma coincidência retórica: “Todo o discurso foi baseado num ideal nacionalista para a Arte brasileira, e houve uma coincidência com uma frase de um discurso de Goebbels. Não o citei, e jamais citaria”, afirmou. “Mas a frase em si é perfeita: heroísmo e aspirações do povo é o que queremos ver na Arte nacional”, concluiu. Por fim, o secretário foi novamente às redes sociais, onde afirmou que, “se soubesse da origem da frase, jamais a teria dito. Tenho profundo repúdio a qualquer regime totalitário, e declaro minha absoluta repugnância ao regime nazista”.
Dizer que não sabia da citação basta como uma desculpa? Ao meu ver, não. A história está repleta destes personagens que abrem mão de dialogar com sua consciência para fazer parte do coletivo. Talvez o mais emblemático deles seja Adolf Eichmann, tenente-coronel da SS, responsável pela logística do genocídio dos judeus pela Alemanha nazista.
Em 1963, Hannah Arendt publicou a obra “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”. O que ela pretendia que fosse uma mera exposição do julgamento do nazista, converteu-se em uma imensa controvérsia política e moral. As reflexões de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, a capacidade de julgar e a responsabilidade pessoal forneceram uma decisiva contribuição para pensar a relação entre ética e política na contemporaneidade.
O termo “banalidade do mal” foi por ela cunhado, após ouvir do próprio Eichmann que o cego cumprimento às ordens emitidas por seus superiores poderia ser comparada à obediência de um cadáver (SIQUEIRA, 2011). Arendt o descreve da seguinte forma: “Ele não era burro. Foi pura irreflexão – algo de maneira alguma idêntico à burrice – que o predispôs a se tornar um dos grandes criminosos desta época. E se isso é ‘banal’ e até engraçado, se nem com a maior boa vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade diabólica ou demoníaca de Eichmann, isto está longe de se chamar lugar comum […]” (ARENDT, 2013, p. 311).
A autora não acreditava que Eichmann era um grande sádico, que encontrasse uma forma específica de gozo na ideia de que estava produzindo instrumentos para matar. Muito pelo contrário, ele era um ótimo funcionário, metódico, organizado, constituiu uma família e havia sido um aluno mediano. Eichmann defendia a ideia de que o que aconteceu foi um mero acidente – “(…) ele ter feito o que fez e não outra pessoa, uma vez que, no fim das contas, alguém tinha de fazer aquilo.” (ARENDT, 2013, p. 312). Será que foi isso que aconteceu a Roberto Alvim? Afinal, se ele não tivesse feito o pronunciamento, alguém o faria. Além disso, ele era um ótimo funcionário. O próprio Presidente teceu elogios aos secretário horas antes do vídeo ser publicado: “Depois de décadas, agora temos, sim, um secretário de Cultura de verdade. Que atende o interesse da maioria da população brasileira”, afirmou Bolsonaro.
A banalidade do mal tem a ver com a paixão pela instrumentalidade. O mal se torna banal quando as condições de pensamento se esvaziam e as pessoas deixam de se comprometer com sua capacidade de julgamento, e o sujeito pode perder “alegremente” no meio da massa o seu compromisso ético. O sentimento de pertencimento ao coletivo é o sentimento de não ter que se responsabilizar pelo próprios atos, e surge então a paixão de se dissolver completamente.
Parar de pensar é sempre muito tentador. Uma incessante busca por uma desculpa para fugir da solidão de nossas mentes, que é a condição do diálogo moral de cada um com sua consciência. Os grupos, como o de amigos, família, torcidas, igreja etc, não nos oferecem apenas ideologias e desculpas, mas sim uma função para cada um de seus membros. Assim, não é necessário decidir sobre a própria vida, mas sim exercer um papel no coletivo.
Preferiríamos que Eichmann, Alvim e tantos outros fossem desequilibrados ou monstros, pois sua loucura explicaria o horror de seus atos e os manteria afastados (e diferentes) de nós. Mas eles não são monstros, são nossos amigos, vizinhos e até mesmo familiares. Existe uma faceta de nossa humanidade que pretende alienar-se por inteiro no desejo do Outro. Diz respeito a desejar fazer-se instrumento, fazer-se objeto, recusar aspectos que denotem a própria individualidade, que exponham um desajuste inexpugnável entre eu e o mundo.
.

Psicóloga clínica (CRP 08/23302) e Relações Públicas. Especialista em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica (UniCesumar/PR) e Semiótica Psicanalítica: Clínica da Cultura (PUC/SP).